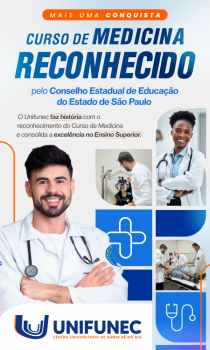Língua morta
Ganhei de amigo secreto, um livro interessante, que acabei de ler esta semana.
É o pequeno dicionário brasileiro da língua morta, de Alberto Villas, jornalista e escritor, nascido em Belo Horizonte, nos anos 50.
Neste singelo compêndio ele declina centenas de palavras que sumiram do mapa.
Se você é do tempo que tirou uma abreugrafia certamente vai estar por dentro do assunto de hoje.
Na época que eu estava no científico era doido para ter um carango, mas como fiquei de segunda época deu zinabre na víspora que joguei.
Pelo menos tinha a companhia de uma radiola e mandava brasa nos inferninhos da cidade.
A primeira gonorréia é difícil de esquecer assim como a última amizade colorida.
Era o tempo em que o mancebo tinha de ser boa-pinta, topete caído na testa e nada de ser afeminado ou esnobe.
A indumentária era colorida, calça boca de sino, com fecho éclair, camisa vual, cinturão de couro, cordão de ouro, meia soquete, botinha com salto e anel de brucutu, muito diferente do suspensório do papai.
Quem não seguisse a onda tinha de lamber sabão e, no mínimo era preciso escovar os dentes com dentifrício, sabor hortelã.
Mas tinha aquele que preferia enfrentar um boticão e depois fazer gargarejo e pincelar a garganta num boticário.
Baile de formatura era de gala. Quem tocava era só orquestra e os pés de valsa saiam a procura de pares, dizendo – por obséquio, mas as tábuas eram inevitáveis.
No baile de carnaval tinha samba, marchinha, entrudo e pó de mico. No salão só não entrava pé de chinelo e mulher de vida fácil.
Desculpe, meus caros leitores, por ter enchido linguiça na “coruna” de hoje…